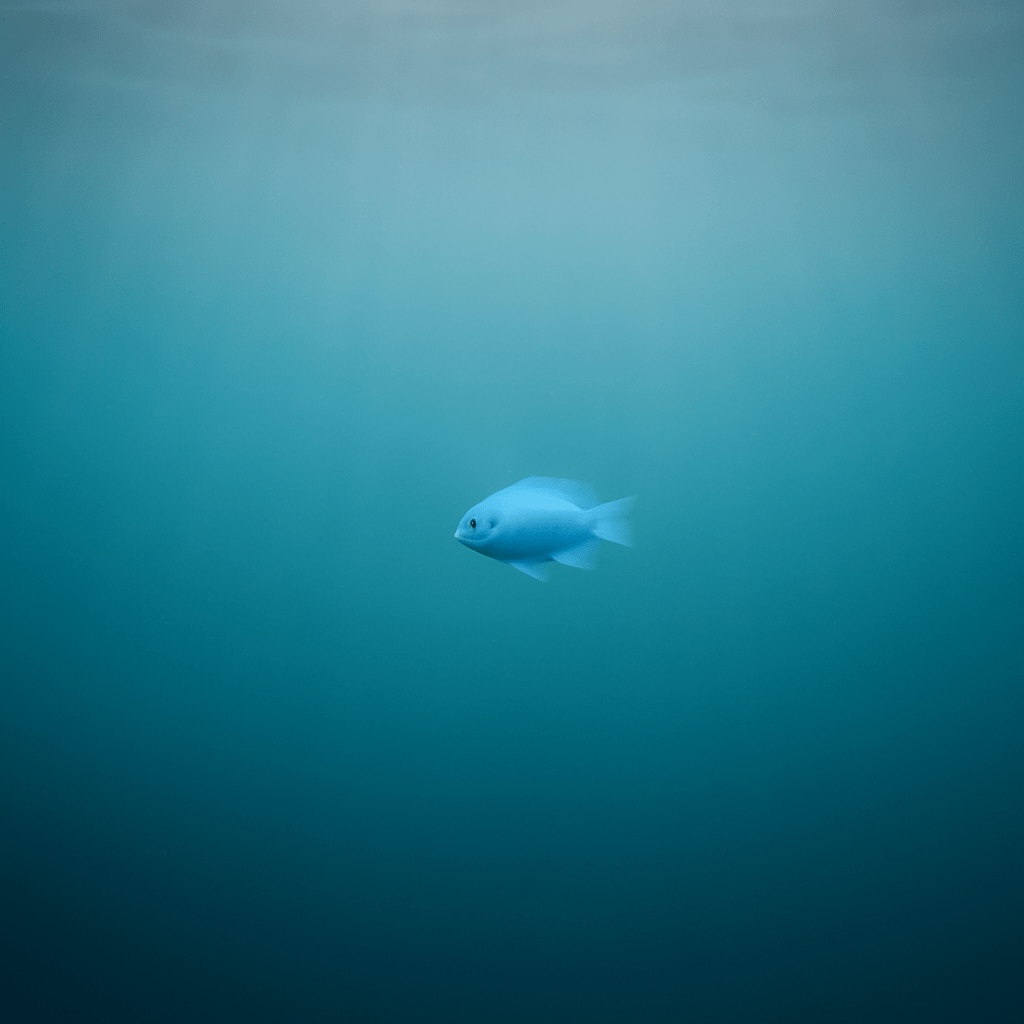Pai morto, namorada morta.
Tia morta, irmão nascido morto.
Primos mortos, amigo morto
Avô morto, mãe morta
(mãos brancas, retrato sempre inclinado na parede, grão de poeira nos olhos).
Conhecidos mortos, professora morta.
Inimigo morto.
Noiva morta, amigas mortas.
Chefe de trem morto, passageiro morto.
Irreconhecível corpo morto: sera homem ou bicho!
Cão morto, passarinho morto.
Roseira morta, laranjeiras mortas.
Ar morto, enseada morta.
Esperança, paciência, olhos, sono, mover de mão: mortos.
Homem morto. Luzes acesas.
Trabalha à noite, como se fora vivo.
Bom dia! Está mais forte (como se fora vivo).
Morto sem notícia, morto secreto.
Sabe imitar fome, e como finge amor.
E como insiste em andar, e como anda bem.
Podia cortar casas, entrar pela porta.
Sua mão pálida diz adeus à Rússia.
O tempo nele entra e sai sem conta.
Os mortos passam rápidos, já não há pegá-los.
Mais um se despede, outro te cutuca.
Acordei e vi a cidade:
eram mortos mecânicos,
eram casas de mortos,
ondas desfalecidas,
peito exausto cheirando a lírios,
pés amarrados.
Dormi e fui à cidade:
toda se queimava,
estalar de bambus,
boca seca, logo crispada.
Sonhei e volto à cidade.
Já não era a cidade.
Estavam todos mortos, o corregedor-geral verificava etiquetas nos cadáveres.
O próprio corregedor morrera há anos, mas sua mão continuava implacável.
O mau cheiro zumbia em tudo.
Desta varanda sem parapeito contemplo os dois crepúsculos.
Contemplo minha vida fugindo a passo de lobo, quero detê-la, serei mordido?
Olho meus pés, como cresceram, moscas entre eles circulam.
Olho tudo e faço a conta, nada sobrou, estou pobre, pobre, pobre,
mas não posso entrar na roda,
não posso ficar sozinho,
a todos beijarei na testa,
flores umidas esparzirei,
depois… não há depois nem antes.
Frio há por todos os lados,
e um frio central, mais branco ainda.
Mais frio ainda…
Uma brancura que paga bem nossas antigas cóleras e amargos…
Sentir-me tão claro entre vós, beijar-vos e nenhuma poeira em boca ou rosto.
Paz de finas árvores,
de montes fragílimos lá embaixo, de ribeiras tímidas, de gestos que já não podem mais irritar,
doce paz sem olhos, no escuro, no ar.
Doce paz em mim,
em minha família que veio de brumas sem corte de sol
e por estradas subterrâneas regressa às suas ilhas,
na minha rua, no meu tempo – afinal – conciliado,
na minha cidade natal, no meu quarto alugado,
na minha vida, na vida de todos, na suave e profunda morte de mim e de todos.
REPUBLICAÇÃO: poema originalmente publicado na página em 22/02/2016