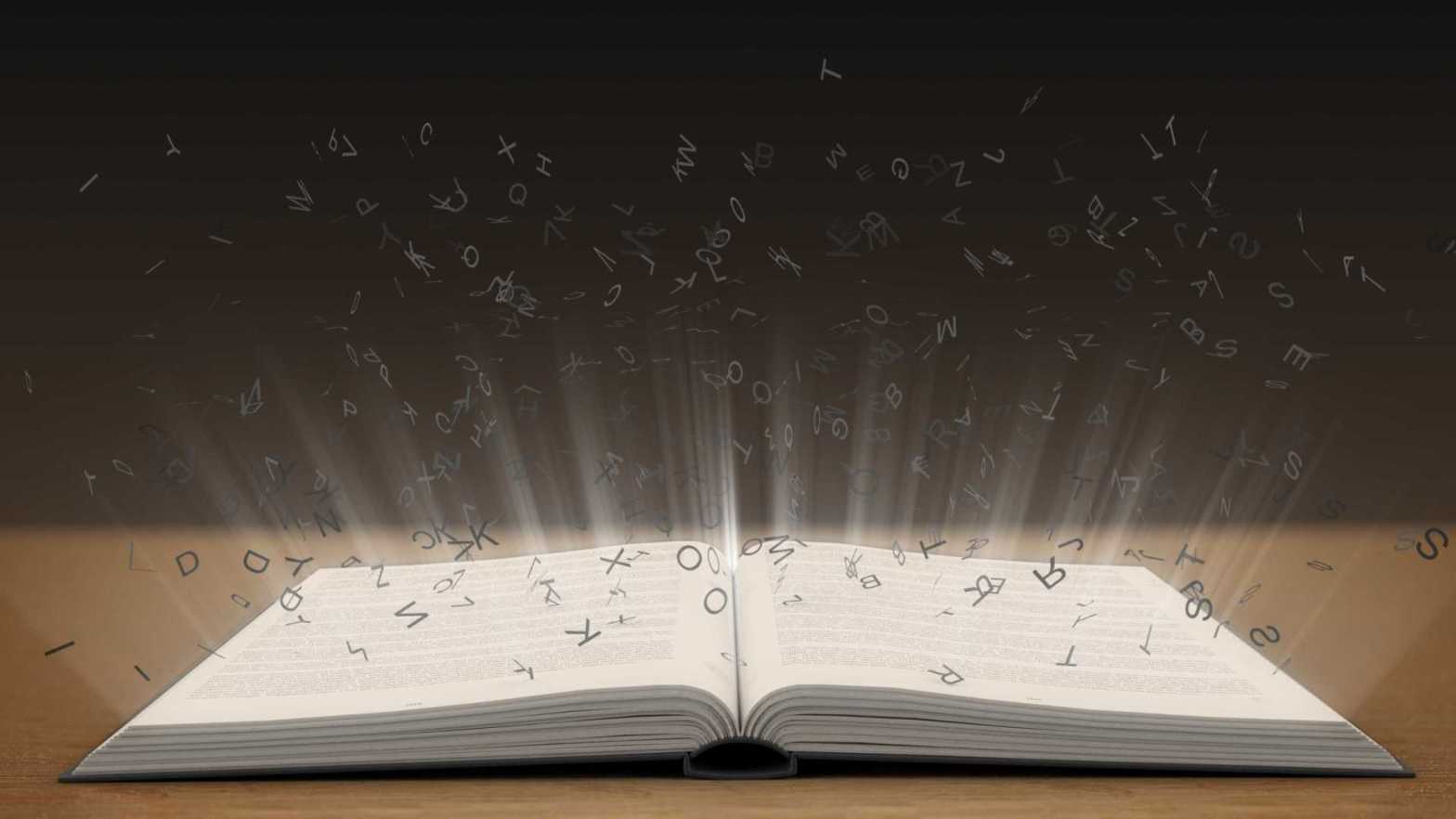De quem é esta pele
que cobre a minha mão
como uma luva?
Que vento é este
que sopra sem soprar
encrespando a sensível superfície?
Por fora a alheia casca
dentro a polpa
e a distância entre as duas
que me atropela.
Pensei entrar na velhice
por inteiro
como um barco
ou um cavalo.
Mas me surpreendo
jovem velha e madura
ao mesmo tempo.
E ainda aprendo a viver
enquanto avanço
na rota em cujo fim
a vida
colide com a morte.
Raul de Carvalho – Amiúde
No vale dos afetos
ninguém está seguro:
Míngua a lembrança,
Esquece-se o rosto,
Retorna-se ao eu,
Os lábios secam, as palavras dormem, os sonhos dispersam-se, a
presença ausenta-se, há o lago de que não se vê o fundo –
E apenas as pequenas ilusões
– um café, o cigarro, a limonada –
imitam dois corações unidos …
Roger Wolfe – A Última Noite da Terra
O melro de todos os anos voltou a visitar minha casa
E, no entanto, permaneço aqui.
Sua melodia não muda, já o escrevi antes.
Mas o meu trabalho é constatar o óbvio
e é isso que o melro faz-me recordar.
O tempo passa, as pessoas envelhecem, morrem
por sua própria mão ou com ajuda.
As palavras vazam pelo ralo
do que alguém já chamou de “a história secreta”.
Tudo flui e se perde, os rios no mar,
o mar na imensidão incalculável do cosmos,
o cosmos no nada do qual não deveria ter saído.
Enquanto isso, digitamos.
Um surdo tamborilar contra séculos de morte programada
e um futuro de certeira incerteza.
Um batalhão de patéticos amanuenses do esquecimento
exigindo duas camisas para o caminho até o patíbulo.
Todavia, não é o frio o problema, mas o medo.
E é o melro, em sua ignorância, quem conhece a verdade.
Cumpre sem a mínima estridência
o ritual que lhe impôs a biologia.
E depois morrerá. Sem epitáfios, como este,
que desaparecerão com um esgar de indiferença
entre as chamas da última noite da Terra,
quando ninguém já perceber qualquer significado,
se é que algo já fez sentido alguma vez.
Trad.: Nelson Santander
Roger Wolfe – La última noche de la tierra
El mirlo de todos los años ha vuelto a visitar mi casa
y todavía sigo aquí.
Su música no cambia y eso ya lo he escrito.
Pero mi trabajo es constatar lo obvio
y eso es lo que el mirlo me viene a recordar.
El tiempo pasa, la gente se hace vieja, se muere,
por su propia mano o con ayuda.
Las palabras van bajando por el desagüe
de lo que alguien ha llamado la intrahistoria.
Todo fluye y se pierde, los ríos en el mar,
el mar en la inmensidad inabarcable del cosmos,
el cosmos en la nada de la que no debió salir.
Mientras tanto tecleamos.
Un sordo tamborileo contra siglos de muerte programada
y un futuro de certera incertidumbre.
Un batallón de patéticos amanuenses del olvido
exigiendo dos camisas para el camino hacia el patíbulo.
Pero no es el frío el problema, sino el miedo.
Y es el mirlo, en su ignorancia, el que sabe la verdad.
Cumple sin la más mínima estridencia
el ritual que le ha impuesto la biología.
Luego morirá. Sin epitafios, como éste,
que se deshagan con una mueca indiferente
entre las llamas de la última noche de la Tierra,
cuando nadie entienda ya ningún significado,
si es que algo tuvo sentido alguna vez.
João Miguel Fernandes Jorge – Presépio Animado da Ribeira Grande
Ainda todos se lembram do dezembro de 96.
Era dia de natal. Na estrada que leva ao norte
da ilha, sob grande tempestade, trôpego, na
berma, um gato de pelagem branca. Parecia
ferido. Fêmea branca, a que chamariam persa
de pelo curto, tinha uma chaga na orelha
alastrava pelo crânio e pela face e
olho. Massa disforme de carne e sangue,
pancada de carro ou parede de muro desabado
a ferida. Animal muito manso, delicado e
tímido, deixou que me aproximasse
lhe pegasse e a trouxesse para dentro do
meu carro. Tremia de frio e também de medo e
dor. Enxuguei-a com um pedaço de
flanela, dei por mim chamando-lhe
Princesa: era muito nova, pequena,
de um branco que resistia ao lixo da terra
da quase sarjeta de onde a tirei; olhos
claros, amendoados. A mais
delicada e triste das gatas com a horrível
ferida a alastrar, implacável. Uma
gangrena que exalava cheiro pestilento
– a princesa branca apodrecia no dia
de natal. Havia uma caixa de cartão
no banco traseiro, coloquei-a dentro e
descobri a casa do veterinário. Era uma pasta
de sangue, carne e urina tão assustada
estava. O médico agarrou-a – eles já
cheiraram muita pestilência, os veterinários –
fez-lhe festas. Era muito meiga. Não
pude olhar enquanto a matava; meteu o
corpo branco, ainda quente, na caixa de
cartão. Levei-a, morta, e com aquele cheiro;
já quase noite. Enterrei-a num pequeno
jardim, bem perto do presépio animado da Ribeira
Grande, que nesse fim de dia de natal ainda
visitei. As lágrimas de nada servem, nem
por uma gata branca a que chamei Princesa,
durante uma escassa hora, a debater-se
com a morte. O sangue, a urina
o cheiro da gangrena. Este é o inferno
dos mortais, a sua beleza e fragilidade. A
morte é uma coisa e a vida, a mesma
coisa. A face da morte é o reflexo da
vida quando se debruça sobre a superfície
da ilha. Luze em todos os natais, suave,
esbatida de traços – palavra de traição
que rodeia o medo, o abandono.
Charles Simic – Na Biblioteca
Para Octavio
Há um livro chamado
“Um Dicionário dos Anjos”.
Não foi aberto por ninguém em cinquenta anos,
Eu sei, porque quando o fiz
As capas rangeram, as páginas
desintegraram-se. Nele descobri
Que os anjos já foram tão abundantes
Quanto moscas. O céu ao entardecer
Costumava ficar repleto deles.
Você precisava agitar ambos os braços
Apenas para mante-los afastados.
Agora o sol está brilhando
Através de altas janelas.
A biblioteca é um lugar tranquilo.
Anjos e deuses amontoados
em sombrios tomos fechados.
O grande segredo está
Em alguma estante pela qual
Miss Jones passa em sua ronda diária.
Ela é muito alta, então mantém
Sua cabeça inclinada como se estivesse escutando.
Os livros estão sussurrando.
Eu não ouço nada, mas ela sim.
Trad.: Nelson Santander
Charles Simic – In Library
There’s a book called
“A Dictionary of Angels.”
No one has opened it in fifty years,
I know, because when I did,
The covers creaked, the pages
Crumbled. There I discovered
The angels were once as plentiful
As species of flies. The sky at dusk
Used to be thick with them.
You had to wave both arms
Just to keep them away.
Now the sun is shining
Through the tall windows.
The library is a quiet place.
Angels and gods huddled
In dark unopened books.
The great secret lies
On some shelf Miss Jones
Passes every day on her rounds.
She’s very tall, so she keeps
Her head tipped as if listening.
The books are whispering.
I hear nothing, but she does.
Inês Dias – Lei Sálica
As mulheres da família sempre
tiveram um jeito quase póstumo
de existir: guardar o lume
em silêncio, comer depois de
servir os outros, morrer primeiro.
Saíam à hora de ponta do destino
para lerem os caminhos perdidos
e coleccionavam a abdicação
em caixinhas de folha, entre bilhetes
caducados ou dentes de infâncias alheias.
Esperavam a vida toda por uma vida
próxima, de alma presa a alfinetes
no vestido preferido para o enterro,
os passos medidos nas suas varandas
a dar para o fim do mundo.
Retomo-lhes às vezes os gestos
neste meu exílio inventado,
mas acaba aqui: vou encher de corpo
a sombra, mesmo que nem tempo
me reste já para a pesar.
A. M. Pires Cabral – Motes e Voltas
1
Senhor, vão sendo horas.
Sei bem que o teu relógio
não tem de regular-se pelo meu
nem a tua vontade pela minha.
Mas é justo que seja aquele que sofre
do tempo os enxovalhos
a dizer quando vão sendo horas —
e não tu, Senhor, com quem
o tempo não colide
(decerto porque tu mesmo és o tempo
ou a ausência dele,
e não podes portanto avaliar
quando se nos torna o peso do Verão
desmedido, funesto, vexatório.)
2
Como foi longo o Estio. Como se demorou
o Sol nas coisas com cínica indiferença
própria dos deuses.
Como o Sol crestou a erva, a pele.
É tempo de vento à solta nas campinas.
Entorna, Senhor, o bálsamo das sombras
sobre o quadrante dos relógios de sol
e sobre tudo o mais que o Verão escaldou.
Que vigorem as trevas, chuva e frio
com que se tece
o branco lenço da melancolia.
3
Estão colhidas, derramadas
na sua cama de palha,
as maçãs que hão-de perfumar a casa
no Inverno avesso a cheiros.
O vinho já ganhou
doçura e perfídia quanto baste.
Estas são, Senhor, as minhas provisões
para os dias de Estio que aí vêm.
4
Eu fiz a minha casa com uma pedra
que me deste. Usei a tua madeira,
os teus metais. Posso dizer:
tenho uma casa, eu não sou daqueles
para quem o Verão não foi mais que um embuste.
Mas sei de muitos a quem o Sol cegou
e já não podem ver
o esplendor das trevas.
Isto é: já não podem construir
casa nenhuma.
5
Não estou só
Recrutei companheiros para o Inverno
que não o temem como se teme um lobo,
mas apenas como é justo que se tema
o desdobrar das páginas do tempo:
com decoro. Então
aconchegados a mim, e eu a eles.
Somos uma parede.
Mas há quem esteja só
e assim deva ficar.
A esses, tudo aquilo que o nocivo
Inverno lhes trouxer
recordará o que ficou retido
nas levianas demasias do Verão.
As cartas que usarão como recurso
contra a ausência do Sol
ninguém lhas lerá, ser-lhe-ão devolvidas
com um carimbo maquinal: «Desconhecido
neste endereço». Cartas descompostas
de terem ido e voltado.
Cartas que em boa verdade
escreverão a si mesmos
sob outros nomes e moradas. Cartas
semelhantes a ardilosos bumerangues
ou a cães ensinados a voltar para nós,
trazendo na boca, molhado de saliva,
o pau que arremessámos.
6
Mas possa eu, Senhor, não perder nunca
os olhos com que ao frio me enamoro
das folhas que se movem casuais
ao vento outonal das alamedas.
Eugénio de Andrade – Ver Claro
Adília Lopes – Arte Poética
Escrever um poema
é como apanhar um peixe
com as mãos
nunca pesquei assim um peixe
mas posso falar assim
sei que nem tudo o que vem às mãos
é peixe
o peixe debate-se
tenta escapar-se
escapa-se
eu persisto
luto corpo a corpo
com o peixe
ou morremos os dois
ou nos salvamos os dois
tenho de estar atenta
tenho medo de não chegar ao fim
é uma questão de vida ou de morte
quando chego ao fim
descubro que precisei de apanhar o peixe
para me livrar do peixe
livro-me do peixe com o alívio
que não sei dizer
Inês Dias – Your Funeral, my Trial
O morto fica mais só
quando quem fala lhe rouba
a última memória desse barco
desmesurado da infância,
construído sem vista para o mar.
O morto fica mais só ainda,
quando quem ouve se esquece da música
para escolher o seu próprio funeral,
alinhando convidados e preferindo coroas
de plástico a condizer com as lágrimas.
O morto fica mais só ainda, se possível,
quando me distraio com o mel da luz
nos vitrais ou sigo o gato amarelado
para quem a morte é apenas uma questão de
sobrevivência, talvez um jogo, se algum rato
finge entregar-se com prazer às suas garras.
Hoje, pela primeira vez, não me chegam
os dedos para contar os meus dias de veladora.
Mesmo sabendo que nenhum ritual nos consola,
tento apaziguar a terra que se abre a meus pés,
plantando cravos condenados que nunca voltarão a florir.
E invejo secretamente o morto, porque já não precisa de
conhecer a flor preferida de ninguém:
pode simplesmente deixar-se estar,
na certeza de que o chão não lhe voltará a falhar.
Os mais sós, afinal, são sempre os sobreviventes.