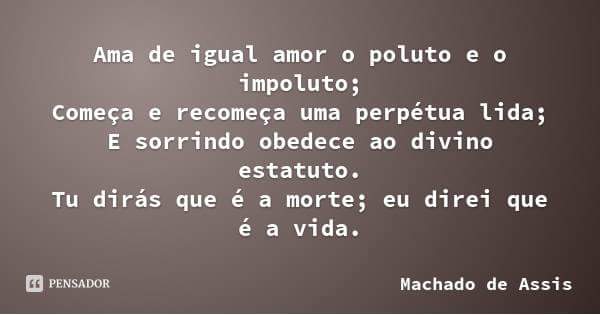Para Raymundo Faoro
“¿Puedo decir que nos han traicionado? No.
¿Que todos fueram buenos? Tampoco. Pero
alli está una buena voluntad, sin duda y
sobretodo, el ser así.”
CÉSAR VALLEJO
1
Uma coisa é um país,
outra coisa um ajuntamento.
Uma coisa é um país
outra um regimento.
Uma coisa é um país,
outra o confinamento.
Mas já soube datas, guerras, estátuas
usei caderno “Avante”
– e desfilei de tênis para o ditador.
Vinha de um “berço esplêndido” para um “futuro radioso”
e éramos maiores em tudo
– discursando rios e pretensão.
Uma coisa é um país,
outra um fingimento.
Uma coisa é um país,
outra um monumento.
Uma coisa é um país,
outra o aviltamento.
Deveria derribar aflitos mapas sobre a praça
em busca da especiosa raiz? ou deveria
parar de ler jornais
e ler anais
como anal
animal
hiena patética
na merda nacional?
Ou deveria, enfim, jejuar na Torre do Tombo
comendo o que as traças descomem
procurando
o Quinto Império, o primeiro portulano, a viciosa
[visão do
paraíso
que nos impeliu a errar aqui?
Subo, de joelhos, as escadas dos arquivos
nacionais, como qualquer santo barroco
a rebuscar
no mofo dos papiros, no bolor
das pias batismais, no bodum das vestes reais
a ver o que se salvou com o tempo
e ao mesmo tempo
– nos trai.
2
Há 500 anos caçamos índios e operários,
há 500 anos queimamos árvores e hereges,
há 500 anos estupramos livros e mulheres,
há 500 anos sugamos negras e aluguéis.
Há 500 anos dizemos:
que o futuro a Deus pertence,
que Deus nasceu na Bahia,
que São Jorge é que é guerreiro,
que do amanhã ninguém sabe,
que conosco ninguém pode,
que quem não pode se sacode.
Há 500 anos somos pretos de alma branca,
não somos nada violentos,
quem espera sempre alcança
e quem não chora não mama
ou quem tem padrinho vivo
não morre nunca pagão.
Há 500 anos propalamos:
este é o país do futuro,
antes tarde do que nunca,
mais vale quem Deus ajuda
e a Europa ainda se curva.
Há 500 anos
somos raposas verdes
colhendo uvas com os olhos,
semeamos promessa e vento
com tempestades na boca,
sonhamos a paz da Suécia
com suíças militares,
vendemos siris na estrada
e papagaios em Haia,
senzalamos casas-grandes
e soçobramos mocambos,
bebemos cachaça e brahma
joaquim silvério e derrama,
a polícia nos dispersa
e o futebol nos conclama,
cantamos salve-rainhas,
e salve-se quem puder,
pois Jesus Cristo nos mata
num carnaval de mulatas.
Este é um país de síndicos em geral,
este é um país de cínicos em geral,
este é um país de civis e generais.
Este é o país do descontínuo
onde nada congemina,
e somos índios perdidos
na eletrônica oficina.
Nada nada congemina:
a mão leve do político
com nossa dura rotina,
o salário que nos come
e nossa sede canina,
a esperança que emparedam
e a nossa fé em ruína,
nada nada congemina:
a placidez desses santos
e nossa dor peregrina,
e nesse mundo às avessas
– a cor da noite é obsclara
e a claridez vespertina.
3
Sei que há outras pátrias. Mas
mato o touro nesta Espanha,
planto o lodo neste Nilo,
caço o almoço nesta Zâmbia,
me batizo neste Ganges,
vivo eterno em meu Nepal.
Esta é a rua em que brinquei,
a bola de meia que chutei,
a cabra-cega que encontrei,
o passa-anel que repassei,
a carniça que pulei.
Este é o país que pude
que me deram
e ao que me dei,
e é possível que por ele, imerecido,
– ainda
me morrerei.
4
Minha geração se fez de terços e rosários:
– um teço se exilou
– um terço se fuzilou
– um terço desesperou
e nessa missa enganosa
– houve sangue e
desamor.
[Por
isto,
canto-o-chão mais áspero e cato-me
ao nível da emoção.
Caí de quatro
animal
sem compaixão.
Uma coisa é um país,
outra uma cicatriz.
Uma coisa é um país,
outra a abatida cerviz.
Uma coisa é um país,
outra esses duros perfis.
Deveria eu catar os que sobraram,
os que se arrependeram,
os que sobreviveram em suas tocas
e num seminário de erradios ratos
suplicar:
– expliquem-me
[a mim
e ao meu país?
Vivo no século vinte, sigo para o vinte e um
ainda preso ao dezenove
como um tonto guarani
e aldeado vacum. Sei que
[daqui a pouco
não haverá mais país.
País:
loucura de quantos generais a cavalo
escalpelando índios nos murais,
queimando caravelas e livros
– nas fogueiras e cais,
homens gordos melosos sorrisos comensais
politicando subúrbios e arando votos
e benesses nos palanques oficiais.
Leio, releio os exagetas.
Quanto mais leio, descreio. Insisto?
Deve ser um mal do século
– se não for um mal de vista.
Já pensei: é erro meu. Não nasci no tempo certo.
Em vez de um poeta crente
sou um profeta ateu.
Em vez da epopeia nobre,
os de meu tempo me legam
como tema
– a farsa
e o amargo riso plebeu.
5
Mas sigo o meu trilho. Falo o que sinto
e sinto muito o que falo
– pois morro sempre que calo.
Minha geração se fez de lições mal-aprendidas.
– e classes despreparadas.
Olhávamos ávidos o calendário. Éramos jovens.
Tínhamos a “história” ao nosso lado. Muitos
maduravam um rubro outubro
outros iam ardendo um torpe
[agosto.
Mas nem sempre ao verde abril
se segue a flor de maio.
Às vezes se segue o fosso
– e o roer do
magro osso.
E o que era revolução outrora
agora passa à convulsão
inglória.
E enquanto ardíamos a derrota como escória
e os vendedores nos palácios espocavam suas
[champanhes
sobre a aurora
o reprovado aluno aprendia
com quantos paus se faz a
derrisória
[estória.
Convertidos e presa da real caçada
abriu-se embandeirado
um festival de caça aos pombos
– enquanto raiava sanguínea e fresca a
[madrugada.
Os mais afoitos e desesperados
em vez de regressarem como eu
sobre os covardes passos,
e em vez de abrirem suas tendas para a fome dos desertos,
seguiram no horizonte uma miragem
e
logo da luta
passaram
ao luto.
Vi-os lubrificando suas armas
e os vi tombados pelas ruas e grutas.
Vi-os arrebatando louros e mulheres
e serem sepultados às ocultas.
Vi-os pisando o palco da tropical tragédia
e por mais que os advertisse do inevitável final
não pude lhes poupar o sangue e o ritual.
Hoje
os que sobraram vivem em escuras
e europeias alamedas, e subterrâneos
de saudade,aspirando um chão-de-estrelas,
plangendo um violão com seu violado desejo
a colher flores em suecos cemitérios.
Talvez
todo o país seja apenas um ajuntamento
e o consequente aviltamento
– e uma insolvente cicatriz.
Mas este é o que me deram,
e este é o que eu lamento,
e é neste que espero
– livrar-me do meu tormento.
Meu problema, parece, é mesmo de princípio:
– do prazer e da realidade
– que eu pensava
com o tempo resolver
– mas só agrava com a idade.
Há quem se ajuste
engolindo seu fel com mel.
Eu escrevo o desajuste
vomitando no papel.
6
Mas este é um povo bom
me pedem que repita
como um monge cenobita
enquanto me dão porrada
e me vigiam a escrita.
Sim. Este é um povo bom. Mas isto também diziam
os faraós
enquanto amassavam o barro da carne escrava.
Isso digo toda noite
enquanto me assaltam a casa,
isso digo
aos montes em desalento
enquanto recolho meu sermão ao vento.
Povo. Como cicatrizar nas faces sua imagem perversa
[e una?
Desconfio muito do povo. O povo, com razão,
– desconfia muito de
[mim.
Estivemos juntos na praça, na trapaça e na desgraça,
mas ele não me entende
– nem eu posso convertê-lo.
A menos que suba estádios, antenas, montanhas
e com três mentiras eternas
o seduza para além da ordem
[moral.
Quando cruzamos pelas ruas
não vejo nenhum carinho ou especial predileção nos
[seus olhos.
Há antes incômoda surpresa. Agarro documentos,
[embrulhos, família
a prevenir mal-entendidos sangrentos.
Daí, já vejo as manchetes:
– o poeta que matou o povo
– o povo que só/çobrou ao poeta
– (ou o poeta apesar do povo?)
– Eles não vão te perdoar
– me adverte o exageta.
Mas como um país não é a soma de rios, leis, nomes
[de ruas, questionários e
geladeiras,
e a cidade do interior não é apenas gás neon, quermesse
[e fonte luminosa,
uma mulher também não é só capa de revista, bundas
[e peitos fingindo que é coisa nossa.
Povo
também são os falsários
e não apenas os operários,
povo
também são os sifilíticos
não só atletas e políticos,
povo
são as bichas, putas e artistas
e não só escoteiros
e heróis de falsas lutas
são as costureiras e dondocas
e os carcereiros
e os que estão nos eitos e docas.
Assim como uma religião não se faz só de missas na
[matriz,
mas de mártires e esmolas, muito sangue e cicatriz,
a escravidão
para resgatar os ferros de seus ombros
requer
poetas negros que refaçam seus palmares e quilombos.
Um país não pode ser só a soma
de censuras redondas e quilômetros
quadrados de aventura, e o povo
não é nada novo
– é um ovo
que ora gera e degenera
que pode ser coisa viva
– ou
ave torta
depende de quem o põe
– ou quem o gala.
7
Percebo
que não sou um poeta brasileiro. Sequer
um poeta mineiro. Não há fazendas, morros,
casas velhas, barroquismos nos meus versos.
Embora meu pai viesse de Ouro Preto com bandas de
[música polícia militar casos de assombração e
[uma calma milenar,
[embora minha mãe fosse imigrando hortaliças
[e a fé e o pão,
olho Minas com um amor distante,
como se eu, e não minha mulher
– fosse um poeta etíope.
Fácil não era apenas os tempos das arcádias
entre cupidos e sanfoninhas,
fácil também era o tempo dos partidos:
– poeta sabia “história”,
vivia em sua “célula”
o povo era seu hobby e profissão,
o povo era seu cristo e salvação.
O povo, no entanto, não é o cão
e o patrão
– o lobo. Ambos são povo.
E o povo senso ambíguo
é o seu próprio cão e lobo
Uma coisa é o povo, outra a fome.
Se chamais povo à malta de famintos,
se chamais povo à marcha regular das armas,
se chamais povo aos urros e silvos no esporte popular,
então mais amo uma manada de búfalos em Marajó
e diferença já não há
entre as formigas que devastam minha horta
e as hordas de gafanhoto de 1948
que em carnaval de fome
o próprio povo celebrou.
Povo
não pode ser sempre o coletivo de fome.
Povo
não pode ser um séquito sem nome.
Povo
não pode ser o diminutivo de homem.
O povo, aliás,
deve estar cansado desse nome,
embora seu instinto o leve à agressão
e embora
o aumentativo de fome
possa ser
revolução.