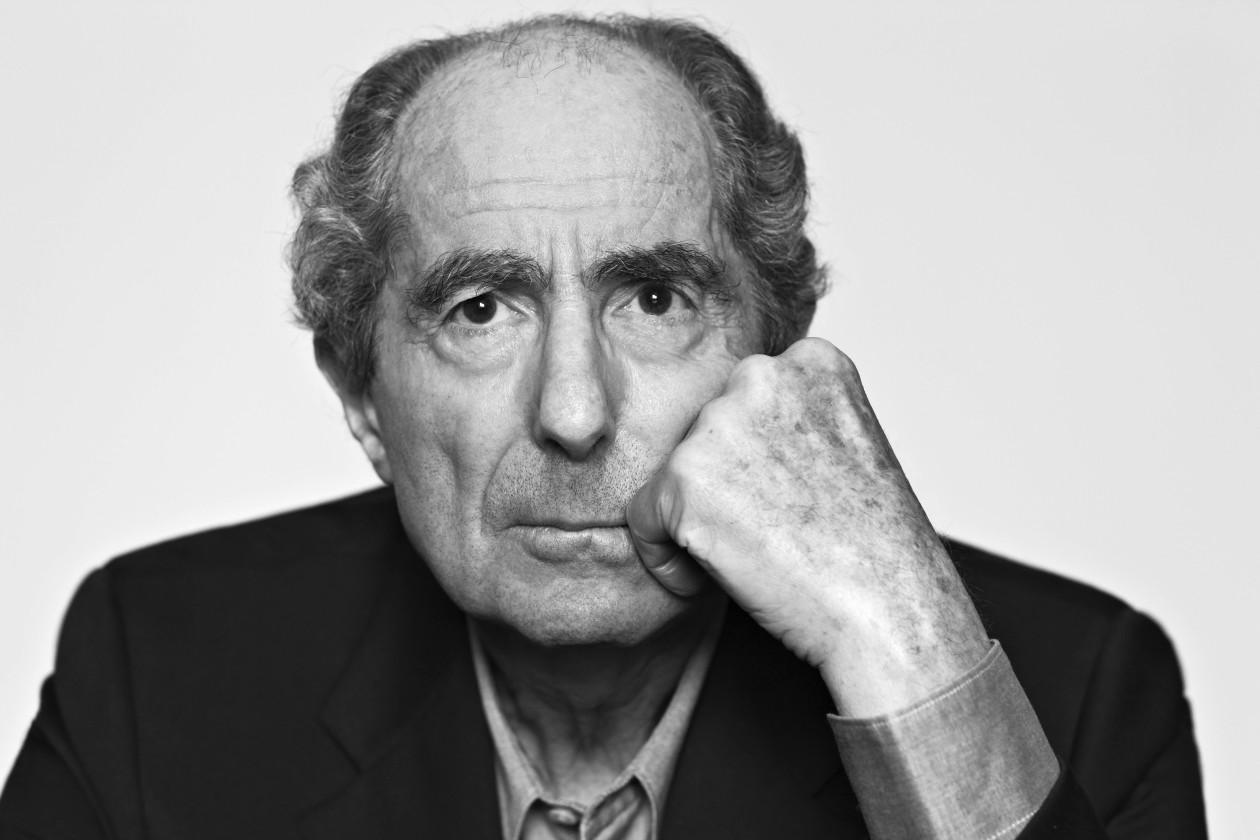Capítulo ***
ESCOBAR
À entrada do teatro São Pedro encontrei-me com Escobar, um comerciante do ramo cafeeiro que conheci por intermédio do meu cunhado Cotrim, com quem ele mantinha relações mercantis. Natural de Curitiba, ex-seminarista, Escobar começava a enriquecer na capital – depois de um início tímido de carreira impulsionada com a ajuda financeira aviada pela viúva do ex-Deputado Pedro de Albuquerque Santiago. Não faças mau juízo da viúva, leitor; o próprio Escobar me confessou que ela havia cedido o cabedal a título de empréstimo exclusivamente por ingerência de seu filho único, Bentinho, que vinha de ser o melhor amigo de Escobar desde a época do seminário. Era voz corrente que Escobar tinha um certo talento ou vocação para administrar seus recursos. E os dos outros. Dizia-se no Andaraí que era dado a aventuras amorosas e que frequentava a casa de Bentinho e sua esposa Capitolina com frequência e em horários pouco comuns.
– Escobar, quanto tempo!
– Brás, que satisfação em revê-lo! Estava mesmo precisando falar com você.
Enquanto falava, Escobar me conduziu para um canto reservado sob a marquise do teatro, quase na esquina. Parecia deveras entusiasmado, o que me causou estranheza, pois sempre o tivera por reservado e pouco afeito ao espalhafato.
– Fiquei sabendo que você alugou uma casinha na Gamboa, perguntou.
Tive um sobressalto. Então já se comentava na cidade acerca do lugar que eu reservara para meus encontros com Virgília? Se Escobar estava sabendo era possível que a história também já tivesse chegado aos ouvidos do Lobo Neves. Depois do episódio da carta anônima, Virgília me disse que o marido andava muito desconfiado. Será que ouvira algo da Gamboa?
– Na verdade, a casa não me pertence, respondi; é da dona Plácida, uma senhora que foi agregada em casa de uma velha amiga. Apenas fiz um pequeno empréstimo e subscrevi umas promissórias para que a pobre pudesse dar a entrada.
– Sei, respondeu ele com um meio sorriso; estou eu também à procura de uma casinha como essa para acomodar a criada de uma amiga…
As palavras cuidadosamente escolhidas associadas ao olhar malicioso que ele me lançou ao dize-las não deixavam dúvidas: Escobar buscava travar aquela espécie de relação de cumplicidade que às vezes há entre dois homens que se encontram na mesma situação de ilicitude matrimonial. Eu não tinha a menor vontade de manter tal nível de vínculo com aquele sujeito. Não confiava nele. Um homem que se prestava ao papel de comborço do melhor amigo não era uma pessoa com quem se podia dividir segredos. Para mim Escobar possuía um caráter de alguém perfeitamente capaz de enviar um bilhete anônimo ao Lobo Neves só para ver o teatro em chamas.
– Foi dona Plácida quem fechou pessoalmente o negócio, respondi de forma seca, começando a andar em direção à entrada do teatro.
– Que pena, respondeu ele, olhando divertidamente para mim enquanto me acompanhava; eu tenho uma certa pressa em encontrar algo. A criada a quem pretendo auxiliar não é casada e está no início de uma gravidez. Quero acomoda-la antes que o estado dela se dê a mostrar. Minha amiga não quer escândalos.
Então era verdade! Não havia criada nenhuma. Corria o boato de que dona Capitolina estava grávida. E que Bentinho não era o pai… Não sabia o que pensar daquilo. Embora também mantivesse um consórcio com uma mulher casada, começava a desenvolver, sem entender bem por que, um sentimento desconfortável de aversão por Escobar. Não me ocorria o motivo exato daquela sensação. Pensei a princípio que minhas fidúcias se deviam a um desejo próprio por uma espécie de reserva de mercado no ramo dos amores ilícitos. Logo acudi que tal vaidade era uma impossibilidade: provavelmente havia centenas de homens na corte em situação análoga à minha. Percebi logo que meu asco por Escobar na verdade derivava de um certo ciúme projetivo em relação à situação dos homens traídos em geral. Com efeito, o leitor pode não acreditar mas, às vezes, eu fazia um exercício de projeção mental, colocando-me no lugar do Lobo Neves – embora raramente e despido de remorso. E, conquanto não me identificasse em nada com o Bentinho – um sujeito fechado, mal-humorado e desconfiado com fama de sensível – o que estava acontecendo com ele não me dava nenhuma satisfação particular. Ademais, Escobar se me aparecia como um reflexo mais limitado intelectualmente e menos pretensioso de mim mesmo – e não era uma visão muito bonita de se ver.
– Tenho que entrar, a peça já deve começar, falei começando a me sentir impaciente; pedirei a Dona Plácida que pergunte nas redondezas se alguém sabe de alguma casa para vender ou alugar.
Ele pareceu se lembrar de algo. Disse-me então que estava indo à casa de um amigo a fim de debater sobre um interdito proibitório – calculei logo que o amigo fosse o Bentinho. De saída, pediu-me discrição sobre suas intenções em relação à casa, “para evitar maledicências desnecessárias”. Redargui que não se preocupasse.
Despediu-se e já começava a se retirar, mas se voltou para mim novamente:
– Esquecia-me de contar-lhe; dia desses, em São Cristóvão, encontrei com uma amiga em comum, Virgília…
Olhei-o desconfiado. Ele continuou:
– Ela ia triste, parece que o marido fora obrigado a renunciar à nomeação como presidente de província. Disse-me que você seria Secretário, é verdade?
– Ainda estava avaliando a conveniência…
– Tomamos um café, continuou ele. Ela é uma companhia muito agradável. E que mulher espetacular! Que magníficos braços ela tem! Mas desconfio de uma coisa…
– Do quê?
– Acho que ela não está feliz no casamento, respondeu. Vendo meu olhar desconfiado ele continuou: Como eu sei? Como você sabe, mulheres não costumam abordar certos assuntos, especialmente com homens casados. Mas naquele dia no café Virgília estava particularmente eloquente.
Chegamos a uma das portas de entrada, onde paramos por um momento. Escobar trazia no rosto uma expressão divertida e gaiata. Segurava de leve no meu braço para me impedir de fugir.
– Sabe que ela até me fez uma confissão bastante indiscreta?
– Sim?, acudi eu, já alarmado.
– Disse-me que não tinha um casamento satisfatório, foi sua resposta. Confesso que não me incomodaria em ajuda-la com alguns dos problemas dela…
Tenta imaginar tu, leitor, o pasmo que experimentei! Não era para mim nenhuma surpresa a indiscrição e lubricidade do Escobar. Mas Virgília falando de suas insatisfações matrimoniais com um homem reconhecido por sua infidelidade à esposa e ao melhor amigo? Ela sequer havia-me dito que tinha se encontrado com Escobar. Sobre o que mais teriam conversado os dois? Teria sido ela quem lhe contou sobre a Gamboa? As garras do ciúme enterraram-se-me no coração; sentia-me como uma espécie de Lobo Neves de véspera. Súbito me ocorreu o óbvio: se ela trai o marido por que não haveria também de trair o próprio amante?
– Se eu fosse você, não me metia com ela, respondi com rispidez; o marido tem fama de valente e já me confessou que não hesitaria em atirar em quem se aproximar da esposa, que ele idolatra.
Escobar sorriu de leve. Percebi por aquele esgar malicioso que ele sabia de tudo: da traição de Virgília e de minha posição privilegiada nesse evento doméstico. De minhas inseguranças com o nosso relacionamento. E de que tudo o que eu podia fazer era inventar essa mentira disparatada sobre o Lobo Neves que apenas no nome carregava algo que vagamente evocava a ferocidade.
Não sei se explico o ódio que senti contra Escobar naquele momento. Desejei que ele se afogasse na praia do Flamengo, onde costumava nadar quase todos os dias, mesmo com o mar bravio.
– Vou levar isso em conta, respondeu – ainda sorrindo daquele jeito velhaco – e se despediu mais uma vez.
Capítulo ****
UM CUBAS! (II)
Fiquei ali, à porta do teatro, sem ânimo para entrar mas com nenhuma vontade de ir embora. Recordava-me a conversa que tivera com Virgília àquela tarde, quando ela me contou sobre a carta anônima que o marido recebera dias antes alertando-o contra mim. Lembrei o gesto de recuo que ela fez quando, à saída, pousei-lhe um beijo à testa. Era evidente que já se cansara de mim. Pensei também no Bentinho, destinado a criar como seu, sem jamais o saber, o filho que, a se dar crédito ao que dizia o vulgo, o amigo fizera em sua esposa. Um turbilhão de sentimentos mal-costurados bulia dentro mim. Ciúme, desesperança, raiva e autocomiseração formavam um todo indigesto que me mantinha prostrado à entrada do teatro.
Enquanto pensava em tais coisas, pude enxergar num vislumbre, através da porta aberta, Nhá-loló, acompanhada de seu pai, o Damasceno. Lembrou-me o dia em que a conheci, naquele jantar em casa de Sabina, de como seus olhos não se despegaram de mim nem por um instante naquela noite. Próximos a eles, vi também um deputado conhecido, ao lado da esposa, filha do ministro da Justiça. Estavam rodeados por um pequeno ajuntamento de sabujos (Damasceno era um deles). A imagem dos rapapés suscitou em mim a nostalgia daquele velho desvanecimento que me acompanhou até a morte e espertou novamente aquela paixão pela notoriedade que, em última instância, acabaria me matando.
Senti meu ânimo se elevar e até esqueci um instante de Virgília quando finalmente decidi entrar no teatro. Quais eram meus reais sentimentos por ela naquela época? Ainda a amaria? Mesmo hoje, aqui na terceira margem do rio, não saberia dizê-lo. Mas a maneira como meu ânimo retornou assim que avistei Nhá-loló sugeria ao menos que minha atenção já não se depositava exclusivamente em Virgília.
Por que me aborrecera então com as insinuações de Escobar? Obviamente, como homem, não gostava de pensar na ideia de ser derrotado na disputa pelo amor de uma mulher, ainda mais porque não poderia recorrer a soluções drásticas – como desafiar o peralta para um duelo – uma vez que a mulher em questão obviamente não me pertencia. O amor-próprio, nessas horas, dilata-se a ponto do apego e do despeito serem confundidos com ciúme. Não o confirmam as Escrituras? “Vaidade de vaidades, tudo é vaidade”
Mas o que me aborrecia mesmo era o fascínio que um sujeito tão vulgar e mal-nascido como Escobar parecia despertar nas mulheres. Como então Virgília estava cogitando substituir um puro-sangue por um matungo? Ocorreu-me que Virgília podia estar repetindo o lance que resultara no xeque-mate de minhas pretensões matrimoniais anos atrás, quando me substituíra, sem maiores explicações, pelo Lobo Neves. A diferença é que então éramos todos solteiros e a preterição de um pretendente por outro não passava de um capricho feminino socialmente aceitável. Virgília estava agora casada e eu era seu amante. Ao aceitar a possibilidade de me substituir por outro, Virgília demonstrava querer explorar outras vias escusas além daquelas que vínhamos percorrendo. E olha que eu não negava à sua atitude um certo espírito empreendedor; só não me agradava ser eu o negócio a ser sucedido para que ela alcançasse a glória…
Veio-me à memória a expressão de indignação que meu pai bradou quando Virgília me substituiu por Lobo Neves:
– Um Cubas!
Aquela frase penetrou em meu pensamento e continuei repetindo-a mentalmente, enquanto procurava sofregamente o camarote de Nhá-loló.
– Um Cubas!
Convém intercalar o presente capítulo e o anterior entre a terceira e a quarta oração do capítulo XCVIII.
NOTAS SOBRE ESSA NARRATIVA
Dia desses, em uma página do Facebook, alguém que eu não conhecia nem de vista nem de chapéu postou um trecho curto propondo um exercício imaginativo: e se Machado tivesse promovido um encontro entre Capitu e Brás Cubas?
Comecei a tentar imaginar como seria, mas me ocorreu algo melhor: e se o encontro fosse entre Brás e Escobar? A dinâmica entre o bem nascido Brás, típico representante da aristocracia oitocentista e o arrivista Escobar, arquétipo da burguesia da época (melhor descrita no perfil que Brás traça de seu cunhado Cotrim) me pareceu que poderia resultar em uma cena mais interessante.
Ao iniciar minha narrativa de cara deparei-me com uma dificuldade. Os fatos narrados em Memórias Póstumas de Brás Cubas ocorrem entre 1805 e 1869, respectivamente as datas do nascimento e da morte de Brás. Não é possível precisar por quanto tempo e em que período Brás e Virgília viveram o seu relacionamento ilícito, pois Machado não quis dar datas exatas. Sabemos, todavia, que Brás se encontrou com Virgília uma vez mais, anos depois do término do relacionamento de ambos, em 1855 (Capítulo 130). Sabemos também que, àquela altura, ambos já estavam na fase de madureza pela descrição que Brás faz de sua ex-amante (“A primeira vez que pude falar a Virgília, depois da presidência, foi num baile em 1855.
Trazia um soberbo vestido de gorgorão azul, e ostentava às luzes o mesmo par de
ombros de outro tempo. Não era a frescura da primeira idade; ao contrário; mas ainda estava formosa de uma formosura outoniça, realçada pela noite.”). E também porque, na sequência, ele dedica um capítulo todo aos seus cinquenta anos de idade (Capítulo 134)
Já a história de ciúmes de Bentinho ocorre mais tarde: Machado não aponta a data de seu nascimento, mas nos conta que, em 1857, ele tinha 15 anos (de onde se presume que ele tenha nascido em 1842 – vide Capítulo II). Escobar, por sua vez, era três anos mais velho do que ele (vide Capítulo LVI) , tendo nascido, portanto, em 1839. Morreu em 1871 (Capítulo CXXII), aos 32 anos de idade. Pela leitura da obra, cogita-se que a suposta traição de Capitu não ocorreu antes do casamento dela com Bentinho, que se deu em 1865 (Capítulo CI). Assim, o suposto caso de adultério, se ocorreu, se deu entre 1865 e 1871, quando Virgília já teria mais de 60 anos. Portanto, cronologicamente falando, seria impossível que Escobar, por volta de seus 29, 30 anos de idade, pudesse ter algum interesse sexual por Virgília…
Não importa, a riqueza dessas criaturas de Machado de Assis é tão grande que me vi obrigado a cometer a heresia de antecipar os eventos narrados em Dom Casmurro para ajusta-los cronologicamente aos das Memórias Póstumas.
Do ponto de vista do Memórias Póstumas de Brás Cubas, o capítulo que imaginei se passa logo após o aborto espontâneo que Virgília sofrera e o recebimento de uma carta anônima por Lobo Neves entregando o caso amoroso de sua esposa com Brás. O caso dos dois está prestes a terminar, mas naquele momento os amantes não sabem disso. Não obstante, ao final do capítulo XCVI (“A Carta Anônima”), Brás relata que ao beijar Virgília na testa esta recuou, “como se fosse um beijo de defunto”. No capítulo seguinte, ele esclarece: “Há aí, no breve intervalo, entre a boca e a testa antes do beijo e depois do beijo, há aí largo espaço para muita coisa: a contração de um ressentimento, — a ruga da desconfiança, — ou enfim o nariz pálido e sonolento da saciedade… “
Em relação a Dom Casmurro, em minha narrativa Brás encontra Escobar logo após a gravidez de Capitu. Àquela altura do romance, Bentinho já havia iniciado sua estratégia de descrever fatos que, no clímax de suas memórias, mostrar-se-iam como verdadeiras peças acusatórias da traição e supostas provas do relacionamento entre Capitu e Escobar. São assim os Capítulo CV, CVI e CVIII. Em cada um desses capítulos, Bentinho conta uma passagem no qual fica subentendido de forma muito sutil o relacionamento de sua esposa com seu melhor amigo (Capitu só concorda em deixar de expor seus braços em eventos sociais depois que Bentinho diz que Escobar aprovava seu desagrado com esse fato; Capitu está com o olhar perdido no mar, o que leva a Bentinho a desconfiar de algo; na sequência, ela diz que estava “somando uns dinheiros para descobrir certa parcela que não achava”, o que, no final, leva à revelação de que Escobar fazia corretagens com as economias de Capitu e que naquele dia estivera com ela antes de Bentinho chegar; etc.)
Finalmente, o ponto de contato entre ambos não podia deixar de ser o Cotrim, cunhado de Brás Cubas, um self-made man na área do comércio, como Escobar.
Acho que não preciso mencionar que minha narrativa é apenas uma brincadeira pseudoliterária. Nem eu sou escritor e ainda que fosse não teria talento suficiente para reproduzir ou sequer imitar o estilo machadiano. Ninguém o tem, aliás. Na literatura latino-americana, Machado é incomparável. Coloca no bolso escritores como Guimarães Rosa, Borges ou Gabriel García Márquez. Na verdade, só vamos encontrar quem o ombreie na mais alta e estrita esfera da literatura mundial – falo de gente como Shakespeare, Dostoiévski, Faulkner.
Mas, como diria Quincas Borba, “a inveja não é senão uma admiração que luta”… Assim, ao emular um ou dois capítulos das Memórias Póstumas estou apenas tentando demonstrar empiricamente um dos princípios humanitas mais bem elaborados.
Mas tem mais: se a inveja é uma virtude, como queria Quincas Borba, invejar o maior de todos – a ponto de querer interpolar alguns capítulos desnecessários em sua obra-prima – é sublime. Aliás, tenha ou não gostado de minha narrativa, você já a leu. Se gostou, ótimo; se não, paciência. Não é o fim do mundo. “Verdadeiramente há só uma desgraça: é não nascer.”, diria Quincas Borba.
Em 20/06/2018