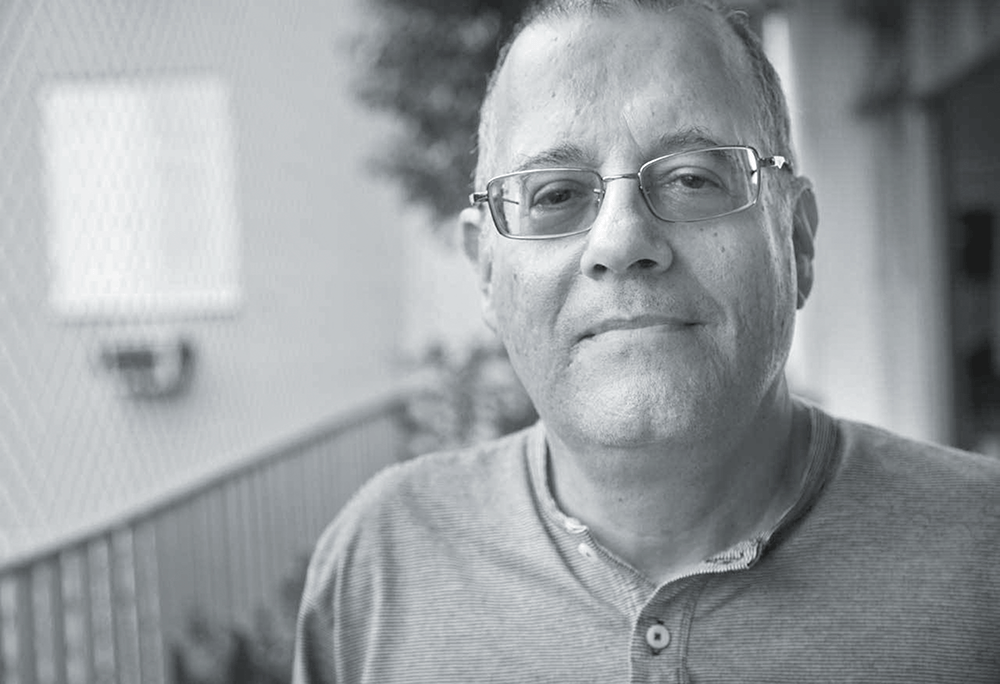Ótima entrevista concedida por Paulo Henriques Britto (para mim, o melhor poeta brasileiro vivo) a Ramon Ramos, e publicada no Suplemento Cultural do Diário Oficial do Estado de Pernambuco.
Paulo Henriques Britto (Rio de Janeiro, 1952), além de poeta, é contista, tradutor e professor da PUC-Rio. Sua obra poética, desde a estreia em Liturgia da matéria (1982), apresenta interesse pelas formas fixas, cujos limites instigam o autor também pelo desafio no instante da criação. Poeta que discute a contenção de versos e emoções, Paulo recebeu os prêmios Alphonsus de Guimaraens, por seu Trovar claro (1997), e Portugal Telecom (atual Oceanos) por Macau (2004).
A epígrafe de Emily Dickinson, que abre seu mais novo livro Nenhum mistério, em tradução do próprio autor diz: Não tivesse eu visto o Sol/ Sofrível a sombra seria/ Mas a Luz fez de meu Deserto/ Terra ainda mais baldia. Tais versos sugerem a discussão sobre a iluminação interior, mas também sobre a luminosidade do processo criativo do poeta — temas que percorrem o livro. Outro tema importante, a perda, aparece já nas primeiras páginas — propondo diálogo com Elizabeth Bishop — e se mantém como questão norteadora atravessando a obra como um todo.
A escrita como tentativa de domar o caos é um dos pontos que vemos nesta entrevista para o Pernambuco, na qual Paulo também fala sobre os procedimentos de elaboração de Nenhum mistério, sobre sua poética e sobre poesia em geral.
Como você vê Nenhum mistério em relação à sua obra? Há continuidade do projeto de Formas do nada que, por sua vez, valoriza o vazio, o menor (como anteriormente sugerido em Mínima lírica)?
Creio que sim. A valorização do menor, do mínimo, é, para um poeta do nosso tempo, uma simples constatação do óbvio. Sim, a minha produção dos últimos 10 anos, ou mais, parece ter uma temática em comum. E, como é inevitável, a temática de quem se aproxima da barreira dos 60 anos e depois a ultrapassa, é cada vez mais a perda. Assim como, no início da trajetória, os temas mais comuns são as descobertas do amor, da maturidade, do potencial da palavra.
A vida na sua literatura não se romantiza, tampouco se mitifica. Ao contrário, por vezes passa a sensação de resignação com o que nos é dado neste mundo. Na sua poesia, como diria Drummond, a vida é uma ordem?
A meu ver, o acaso é o grande motor da realidade. A vida, como parte da realidade, é essencialmente caótica, sempre regida pela entropia. Nós, seres humanos, é que ficamos o tempo todo tentando impor ordem, conectar eventos através de nexos causais. Essas tentativas só podem obter êxito em caráter parcial e provisório, necessariamente, porque elas atuam no sentido contrário à própria natureza do real. A poesia é, entre outras coisas, uma tentativa de ordenar o caos das sensações e dos sentimentos, de criar uma ordem que possa ser utilizada pela própria pessoa que escreve, e também — espera-se — pelas que vierem a ler. Essas tentativas dão prazer, ou ao menos atuam no sentido de reduzir o pavor causado pela constatação de que tudo tende à desorganização, à morte. Mas é claro que, para a grande maioria da humanidade, a poesia, a arte em geral, é desnecessária. Para essas pessoas, existe um texto sagrado já pronto, o qual prova que, na verdade, a realidade é perfeitamente organizada e caminha para um final feliz; todas as evidências em sentido contrário são tachadas de ilusões. Como, na verdade, esse texto sagrado não prova nada, é uma ficção como outra qualquer, passa-se a criminalizar aquele que não acredita nele — o castigo é a perdição eterna, e em tempos passados no Ocidente podia ser a fogueira, como aliás ainda é em alguns países do Oriente Médio — e a condenar a inteligência e a vontade de saber. Não é à toa que o pecado de Adão e Eva foi comer o fruto do conhecimento. Não é à toa que os líderes religiosos e políticos, de modo geral e com raras exceções, odeiam a inteligência e o conhecimento,
e desprezam a arte.
O novo livro se inicia com a palavra nenhum e termina com nada. São quase 110 ocorrências do vocábulo não ao longo dos poemas — além de tantos outros do campo semântico das negativas. O que tanto precisa ser negado, Paulo?
As crenças irreais a que nos apegamos. A tentação de tomar uma ficção como realidade última é muito forte: afinal, ela promete o fim de todos os temores. As religiões, os sistemas ideológicos que explicam tudo, são formas de lobotomia voluntária. A negação é uma afirmação da natureza dura desse real, que se tenta disfarçar com ficções edulcoradas.
No livro, Nenhuma arte é o nome da série de- poemas iniciais, que promovem diálogo com Elizabeth Bishop. A perda, que não está nos títulos, claramente é o tema central. Como você pensa o uso do perder para a elaboração desses poemas?
É o tema que se impõe, como já comentei, a uma altura da vida em que o que mais acontece com a gente é sofrer perdas. E todo escritor — talvez principalmente o poeta lírico — trabalha basicamente com a sua vivência do momento em que escreve, além do repertório da memória. Bishop foi uma poeta que descobri relativamente tarde, quando eu já havia mais ou menos decidido o quê e como eu queria escrever, e que mesmo assim teve um certo impacto sobre a minha escrita, creio eu. Eu diria que a poesia dela reforçou uma tendência que já existia no meu trabalho, e me apresentou algumas sugestões novas.
Certa vez, em entrevista, você disse que “quando se pega uma forma, você nunca compra o pacote completo”. A sua poesia faz uso de formas presas (que poderia sugerir uma ideia de ordem) com uma linguagem próxima do coloquial. Quais desafios você se impõe na hora de escrever?
A forma fixa, para mim, é uma espécie de disciplina, sem dúvida, mas é também, e principalmente, uma fonte de “inspiração”. Alguns dos meus poemas partem de ideias abstratas, mas são uma minoria; no mais de vezes o ponto de partida é uma palavra, ou um sintagma, ou simplesmente um padrão formal, um esquema métrico ou estrófico. Há no meu livro novo um poema que partiu de uma rima, uma rima que me pareceu interessante, entre duas palavras que eu nunca havia percebido que rimavam entre si. Esse é o ponto de partida. O desafio é chegar ao fim, em primeiro lugar, conseguir chegar àquele ponto em que, como disse Cabral, faz clique; mas é também chegar ao fim, a algum tipo de fim, e constatar que o poema não é inteiramente redundante, não funciona de modo muito semelhante a outro ou outros que já li, ou mesmo que já escrevi.
Enquanto leitor e professor da poesia que é feita hoje no Brasil, como você vê a opção majoritária pelo verso livre também aliada à coloquialidade?
O verso livre é uma forma traiçoeira. Na verdade, não é uma forma, e, sim, uma pluralidade imensa de formas, que abre um leque infinito de possibilidades. Por isso mesmo, como costumo dizer, usar verso livre é a maneira mais fácil de escrever poesia ruim, e a mais difícil, ou uma das mais difíceis, de escrever poesia boa. Boa parte do verso livre publicado nos últimos cento e poucos anos só é poesia porque é dividida em versos; no mais, não há nenhum trabalho de linguagem que seja remotamente poético. Mas nas mãos de um grande mestre — e, no nosso idioma, os maiores mestres do verso livre são, a meu ver, Pessoa e Bandeira — o verso livre rende resultados que não seriam possíveis em nenhuma forma tradicional. Quanto à coloquialidade, eu diria que é a única conquista do Modernismo em relação à qual me parece impossível voltar atrás. É perfeitamente possível escrever hoje em dia poemas bons e relevantes usando o decassílabo, o soneto, a sextina, o diabo — mas não consigo imaginar um poema escrito hoje em dia, utilizando o vocabulário precioso, a dicção nobre e a sintaxe arrevesada dos parnasianos, que possa me interessar. Essas coisas, tal como a epopeia, a máquina de escrever e o bonde puxado por burro, pertencem a um passado que não volta mais.
Em determinado poema, está dito que, se não é sempre possível amar a vida, temos sempre o direito de editá-la. Escrever é se editar?
Sem dúvida. A escrita em geral, e a poesia em particular, é mais uma oportunidade de se impor, ou tentar impor, uma ordem causal ao caos aleatório da realidade. Editar a vida é tentar ver uma lógica nela, construir cadeias de causalidade, elaborar explicações para as coisas que aconteceram, justificativas para as decisões que foram tomadas (muitas vezes por motivos inteiramente aleatórios).
O que tem no Paulo-vivo que se perde (ou se ganha) no Paulo-livro?
Você está me pedindo para comparar a realidade vivida com a escrita? Bom, não dá para comparar. A experiência viva é a base de tudo, e o que ela tem de mais maravilhoso é também o que ela tem de mais terrível — o fato de ser regida pelo acaso, de frustrar toda e qualquer tentativa de controle, de imposição de uma ordem. E é esta a grande vantagem da criação artística: ela pode ser, em boa parte (ainda que não de todo), controlada, construída de modo calculado e racional, com princípio, meio e fim. As pessoas que têm fé identificam uma coisa com a outra, o vivido com o lido (ou ouvido, ou decorado), acreditam na ficção que elas criam (ou compram pronta), a qual sempre prova por a mais b que tudo que aconteceu tinha que acontecer. Creio que foi David Hume que disse que todas as superstições se resumem à crença na causalidade. Ele tem razão, mas além de causalidade há também a crença na teleologia — ficções como destino e providência divina.
Da série Caderno lemos: o fracasso se tornou/ a própria textura da vida (…) Assistir à própria queda/ agora é todo o espetáculo. Seus eus-líricos encarnam esse movimento de “menos-valia” ou da própria sensação de fracasso em relação à escrita ou à vida. Esse é um procedimento irônico diante da sua grandeza de poeta reverenciado e premiado?
Não vejo ironia nenhuma nessa afirmação. A experiência vivida é sempre um fracasso, na medida em que inevitavelmente se constitui em um acúmulo de perdas, culminando na morte.
Que luz é essa que, ao nos perpassar, amplifica a sensação de perda e abandono?
A lucidez?
E o mundo vale a nossa lucidez?
Boa pergunta.
* Ramon Ramos é mestre em Literatura (PUC-Rio) e autor de A vulnerabilidade como procedimento
http://www.suplementopernambuco.com.br/entrevistas/2146-entrevista-paulo-henriques-britto.html